— Vovó, a senhora foi escrava?
— Eu não! – respondeu rapidamente a preta velha enquanto apertava o fumo no cachimbo e ria.

A mãe da criança, envergonhada, pediu para que a filha ficasse quieta e não interrompesse o ensinamento, mas logo a simpática vovó com os olhinhos cerrados replicou.
— Deixa a menina. Tem gente que vem pedir, tem gente que vem agradecer. A menina vem aprender. Assim não precisa pedir nada e terá muitos motivos para agradecer.
Eu não fui escrava não, criança. Ninguém foi. Ninguém nunca será. O corpo é feito de carne, água e espírito. O cativeiro é pequeno demais para um espírito livre. – e continuou… Eu nasci livre em uma terra bem distante, distante mesmo. De uma distância que eu não sei nem medir em légua, porque durante a travessia já não sabia se era noite ou dia.
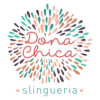
Entre agora na loja virtual da Dona Chica Sling e use o código BLOGDONACHICA para garantir 5% de desconto na sua compra! Clique aqui e use seu cupom
A terra que meus pés pisavam era densa. De manhã o sol se curvava para beijar meu chão. Enquanto beijava, a terra ficava dourada a perder de vista. Ficava dourada a terra e até o mar. À tarde o sol tocava primeiro mar e pintava tudo de laranja. Mas vocês não acreditam porque vocês nunca pisaram lá. À noite, a lua descia para pintar tudo de prata, e o mar cantava uma canção tão bonita que dava gosto de ouvir, mas também dava medo porque à noite o mar engrossava a voz e, às vezes até trazia concha para gente fazer colar, outras vezes trazia peixe para tão perto da gente que era possível pegar com a mão.
Minha mãe me teve na beira da praia. Quando o ventre da minha mãezinha se abriu, a água que me envolvia escorreu e tocou o mar e em um grito só, minha mãe caiu de joelhos porque não havia ninguém por perto para nos ajudar. Uma onda se levantou no mesmo instante e as mãos de Yéyé omo Ejá tocaram minha mãe. Ela é a grande e soberana mãe e não permitiria que uma filha sucumbisse sob seus cuidados. Eu nasci e ela lavou todo o sangue. Minha mãe então falou que enquanto eu estivesse na beira do mar nenhum mal poderia me tocar. Tudo o que precisávamos vinha de lá.

Ah! Filha, à noite todo mundo se reunia para ouvir os mais velhos. As labaredas das fogueiras se misturavam ao prateado da noite aquecendo o nosso corpo e enchendo nosso coração de aconchego. A vila era pequena e todo mundo compreende o valor da vida em comunidade, pois assim como o mar é feito de rios que carregam tantas histórias, nós somos parte de um todo e é preciso se sentir parte. A água do meu parto foi usada como um retalho para aumentar o vestido de Odoyá, a rainha do mar.
Em uma bela manhã olhei para o horizonte ele parecia brilhar mais. O dourado costumeiro devido ao beijo do Sol era estranhamente atravessado por longos raios prateados. Teria a lua esquecido de recolher sua cor da noite? O que gostaria de dizer? Não era apenas eu, mas logo toda a vila estava na praia a olhar. Eram enormes jangadas com asas douradas. Toquei a água, estava fria e o frio cortou meu coração ao ponto de sentir o gosto estranho de estômago na boca, o que seria? Mamãe disse para não me preocupar. Para voltar e ajudar a cuidar dos meus irmãos. Minha mãe assim como a rainha do mar tinha dez filhos, e na barriga mais um para chegar. Ela acreditava que nada parava o fluxo do rio e que ele sempre acharia mar, assim como sua rainha quando tentava escapar nem a rocha pôde segurar a poderosa Iemanjá de alcançar seu destino e enfim reinar.
De repente ouvimos gritos. Algumas casas queimadas… não era possível entender o que se passava. Mas as jangadas com asas prateadas cuspiam fogo. Os seres que desceram delas também eram capazes de jogar fogo. Falavam uma língua muito estranha. Tinham a pele branca, um pouco avermelhada e não respeitavam mulheres, crianças e nem o chefe da aldeia. Minha mãe, meus irmãos mais velhos e eu pegamos os mais novos e corremos pelos fundos. Papai estava longe, cultivando terras ao sul, onde a agricultura era mais desenvolvida. Quando me lembrei de papai a angústia tomou conta do meu ser. Eu quis me sentar em posição fetal e chorar com medo de que talvez meu querido baba já tivesse sido encontrado pelos flagelos. Mas não deva. Era preciso correr.
Ah “fia”! Quando entramos no mato encontramos a trilha nos deparamos com um homem. Olhei nos olhos dele e vi que mesmo branco, mesmo com um cano que soltava fogo e falando uma língua muito estranha, ainda era homem. Não entendemos nada que ele falava, mas ele apontava o cano para o outro lado e gritava. Nos abraçamos e fomos. Chegamos à barraca do chefe. Havia sangue, gente chorando, gente morta e muitos, muitos deles. Eles iam amarrando um a um. Ninguém entendia nada, mas percebi que era para ficar em silêncio e olhando pra baixo. Me chamou a atenção o fato de que apenas mulheres e crianças estavam ali. E os guerreiros? Me perguntei onde estariam. Viriam eles nos salvar? Só mais tarde soube que não haviam mais guerreiros. Suas famílias estavam amarradas sob ameaça de morte. E nossos guerreiros tiveram que sair para caçar irmãos, tribos, outros vilarejos e capturar homens para os flagelos brancos levarem.
Tudo ficaria bem. Os flagelos brancos provavelmente estavam em guerra em algum lugar próximo e precisavam dos nossos guerreiros para que vencessem. Mas guerras acabam e nossos homens não perdiam batalhas, então daria tudo certo. Logo ficariam bem. Muito tempo se passou. Anoiteceu e aquela noite parecia fazer de tudo para minar minhas esperanças. Alguns homens da aldeia começaram a chegar e traziam consigo outros homens. Aqueles que não traziam ninguém assistiam o fim de um familiar e, sem poder prestar as devidas homenagens era obrigado a sair novamente caçando outros irmãos. E toda a noite foi assim. Até que pela manhã os flagelos começaram a nos levantar. Prendiam todos os homens em correntes e jogavam naqueles barcos estranhos, depois pegaram mulheres e crianças. Crianças muito pequenas costumavam deixar para trás e o desespero aumentava à medida que eu me imaginava separada da minha família.
Chegou a nossa vez. Fomos jogados juntos naquela jangada. Mas só então vi que a jangada não era como as que estávamos acostumados. Ela tinha uma escada e nós éramos colocados em uma espécie de buraco, um porão. Estávamos amarrados. Era escuro, sem janela, sem ar. Tinha muita gente. Tanto que para alguns se deitarem, outros precisavam ficar de pé. Eu tinha esperança que aquilo acabasse logo. Mamãe estava grávida. Não podia ficar muito tempo ali.

‑ Filha fica calma. Está tudo bem. Presta atenção no que a mãe vai falar. Você é filha de Janaína, dona dos rios e do Mar. Ela é Marabô, filha de Olokun, mãe de Xangô. `Yiá Orí, a sua cabeça ela já pegou. Cuida dos seus irmãos, minha missão se findou.
Naquele instante entendi que não era uma história, nem uma reza. Mamãe se despedia e do seu jeitinho sábio, ela me dizia.
O barco andava, andava. Noite e dia eram iguais. Fome, dor, gente gritando, gente gemendo, morrendo… e nada mudava. Eu pensava que aquele povo não sabia onde ia, que viajava sem rumo. Quando morria muita gente ou quando havia muita sujeira, nos tiravam do buraco e nos colocavam ao sol. Eu via o mar. Ele me chamava, me dava uma vontade de pular. Mamãe já muito fraca dizia que meu destino eu não podia apressar. Ela havia ido até ali, mas muito tempo não iria aguentar. Me mostrou as ondas, falou do amor, falou da vida, então pedi pra que falasse de Odoyá.
– Ela é mãe de dez Orixás minha filha, mas também é mãe dos peixes e mar. Seu vestido é azul-celeste, cheio de ondas a balançar. Ela é dona do destino de quem decide navegar. Se vive ou se morre depende de quanto do vestido vai balançar. Ela é amável, calma, serena. Mas não a deixe brava. Ela sabe castigar.
E assim eu sorri como não sorria desde quando nos tiraram de casa. Odoyá iria me proteger e vingar todo o mal que nos fizeram. Era bom acreditar. Então à noite eu me sentava no cantinho e dormia um pouco. Sonhava que estava nadando de manhã na água dourada e não me preocupava com mais nada… até o dia em que mamãe não se mexia mais. Os homens vieram para jogar no mar. Eu tive medo, mas não chorei, pois via que a grande Sereia a havia amparado e bateu tão forte nas águas que pareceu que o barco ia virar. Não virou porque é ela quem decide o destino dos navegantes e nós não iríamos morrer.
Meses depois o navio ancorou em uma praia. Amarrados uns nos outros fomos empurrados, e um a um no chão éramos jogados. Ao pisar na areia, uma onda me tocou. Olhei pra trás, vi os olhos de mamãe e a Sereia que me cuidou. Ela veio conosco. Ela é maior que fronteira, é maior que o mar, que o mal, mas a maldade daqueles homens brancos ainda estava por começar.
Acorrentados fomos levados ao mercado. Mas não era para nos alimentar. Vinham pessoas de todos os lados. Eles vinham nos comprar. Mães e filhos foram separados. Noivos não poderiam se casar. Nos olhavam, tocavam, sorriam. Nos levaram para trabalhar. Não fiquei com meus irmãos. Um, depois o outro e todos nós fomos levados e nas senzalas nossas línguas não podíamos falar. “Iorubá é do diabo!” dizia a sinhá enquanto o chicote estalava para ensinar.
Nos deram a cruz, ensinaram rezar. Nos deram outros nomes. Eles disseram que era para nos salvar. Éramos de muitos povos, de muitas nações. Havia filhos de Oxum, de Oxalá, nações Nanã, de Iansã, de Iemanjá… diversos povos, de muitos Orixás. Povo Bantu, Malê, Yoruba, foi aí que decidimos nossa fé continuar.
Decidimos aceitar a cruz, aceitamos o nome, a reza e tudo pra não brigar, mas a nossa fé nos Orixás, o nosso axé nunca iríamos abdicar. Eles vieram também. Nunca nos deixaram. Nos dão tudo o que precisamos para ficar bem.
Me levaram para um canto longe do mar, pra trabalhar dentro de casa, cuidar de criança, cozinhar. Mas nunca deixei de ser uma criança no colo de Iemanjá.

Aprendi mexer com erva, benzer, cruzar patuá. Me tiraram minha mãe, mas veio comigo Iemanjá. Tiraram meus irmãos, e uma de senzala inteira fui cuidar. Presa no tronco fiz a passagem e voltei pro meu Congá. Agora eu sou uma Preta Velha que vem na linha de Odoyá.










0 comentários